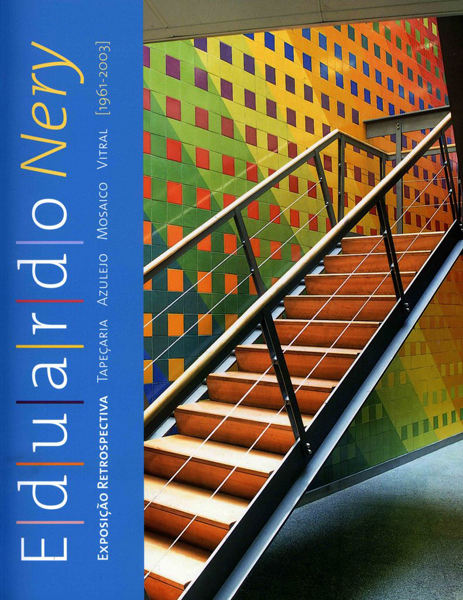..
À “minha Túlia”, a homenagem simples tão só de uma criança
Este artigo foi publicado no Diário de Coimbra no dia 03 de Dezembro de 2006, no espaço “Temas de Domingo”, pg. 20.
Túlia Saldanha e Inês Paulino, no CAPC, no começo dos anos 80
Carta à minha estimada amiga Túlia Saldanha,
Tenho muita pena de não ter podido estar presente no último encontro que tinha marcado consigo. Realmente estava mal informado sobre o seu estado de saúde quando vi o anúncio de que iria fazer parte dum painel de especialistas para discutir, no contexto das iniciativas da ARCO em Madrid, as actividades pedagógicas ligadas ao ensino e divulgação das artes plásticas, há cerca de uma dúzia e meia de anos atrás.
Já não pudemos encontrar-nos e tive de conformar-me com a sua ausência devido a motivo de força maior. A notícia do seu falecimento consternou, como é tão abundantemente sabido, uma boa mão-cheia de amigos desta velha cidade e tantos outros admiradores que, fora dela, tiveram o privilégio de consigo trabalhar e de consigo viver o gosto e a paixão da arte.
Muitos são os eleitos mas poucos os escolhidos
À engenharia das preferências colectivas e das homenagens públicas se pode aplicar a mesma frase que se aplica a muitas outras situações: diz-me como e quanto homenageias e eu dir-te-ei quem és. Lembro-me disto, Túlia, porque sou reincidente em homenageá-la muito singelamente, por palavras breves mas calorosas de sincera admiração.Por mim não fica a sociedade em falta consigo em salientar o valor seguro do seu labor metódico ao serviço de toda a cultura e de todas as artes, mas, acima de tudo, ao serviço da arte sem academias, nem medalhas, nem poses estudadas, da sua preciosa dedicação pela sensibilidade das pessoas em si mesmas.
Confesso-lhe que tenho tentado uma e outra vez convencer todas as pessoas com quem converso de que há uma enorme dívida pública para com a lúcida atenção que dedicou às artes, às suas técnicas, ao seu exercício oficinal e, principalmente, à sensibilizada percepção dos seus valores mais profundos.
A Túlia pertencia à rara multidão dos eleitos, mas não granjeou a condição de escolhida, por culpa de modéstia própria e do funcionamento fatal da sociedade em que viveu. Venho por isso contar-lhe a pequena palavra de uma criança, em substituição de uma grande homenagem institucional, tentando disfarçar o pecado de ocultação que têm cometido todos os seus contemporâneos e sobretudo os que foram testemunhas, utentes e beneficiários directos, individuais ou colectivos, dessa mesma obra e dessa mesma atenção; A homenagem sem preço do afecto de um menino.
Além de artista e dinamizadora cultural exerceu a minha amiga a profissão de educadora, actividade da qual foi afastada ao final da sua carreira, por um processo burocraticamente lamentável e verdadeiramente kafkiano que talvez pouca gente conheça.Anos antes, porém, fora educadora num infantário do qual era utente um filho meu, criança que, como tantas, lutava com certas dificuldades de enquadramento devido à timidez e à incapacidade de reagir perante o meio já agressivo da comunidade infantil. A problemática que viveu foi um tanto perturbadora, sucedendo-se as conjecturas improdutivas de outras educadoras e até da directora do estabelecimento em causa.
A produção de opiniões em nada resultou até que tivemos a sorte de vir para o infantário Túlia Saldanha, que estabeleceu com o menino um relacionamento sem problemas, que conseguiu integrá-lo no colectivo e que fez desabrochar nele a capacidade límpida duma natureza somente tocada de alguma raridade, sem patologias negativas.
A amizade entre menino e educadora, centrada principalmente no trabalho de expressão plástica que desenvolvia, foi tão caloroso que, desde então, Túlia Saldanha perdeu o seu nome artístico para ser bem conhecida entre nós da forma como passou a designá-la esse menino: “a minha Túlia”.
Fique pois sabendo, além disso, que aqui em casa, falando-se de artistas, não viramos todos o rosto para o mesmo lado donde sopra o vento das amenas conveniências da unanimidade. Artistas, apreciamos todos, e a todos dedicamos a atenção que a obra justifica e merece. Mas não queremos ver na paisagem apenas o lado onde bate o sol das preferências sem questionamentos raros. E a si, cara amiga, para além do conhecimento que temos da grande obra por si desenvolvida e da sua total indiferença pelas homenagens deste mundo, creia que ficou “a minha Túlia” para todo o sempre, no imaginário de uma pequena família sem importância que rememora o seu trabalho inteligente como um bálsamo, e a sua perspicácia humana como um acto produtor de futuro em harmonia e felicidade.
Ainda a respeito de Túlia Saldanha e do CAPC, escrevi mais tarde – numa crónica publicada no Diário de Coimbra, o seguinte:
.
Túlia Saldanha, uma presença inesquecível
.
“…No dealbar dos anos setenta, quando cheguei a Coimbra, o CAPC era ainda procurado por interessados praticantes que aqui vinham propositadamente frequentar os seus ateliers, sendo dignificante em futuras carreiras artísticas a menção desse facto nos curricula respectivos.
Datam dessa década e da seguinte as visitas que ali fui fazendo, sendo para mim do maior significado a excelente convivência artística e cultural que pude travar nas antigas dependências da Rua Castro Matoso com artistas como Túlia Saldanha e Inês Paulino, para citar apenas dois nomes distintos.
O período seguinte foi caracterizado por convulsões e acontecimentos do mais variado teor que evidenciaram o Círculo como centro de realizações, debates, encontros, participações activas, sessões de divulgação, confronto de atitudes, etc.
As mudanças registadas, no percurso das quais o infausto desaparecimento de Túlia Saldanha não deixou de ser um notável ponto de viragem, associaram-se ao montante geral de transformações da própria sociedade, apagando de forma duradoura aquilo que fora e não mais voltou a ser.
Até aí ligado ao convívio artístico e à aprendizagem e divulgação oficinal das artes com carácter plural e de acentuada modernidade, o CAPC situou-se a partir de então no horizonte da “emergência” da arte contemporânea, numa tendência conceptual que acentuou a “desmaterialização” da arte e o isolamento progressivo da instituição, tendo alguns dos seus mentores mais avançados – o que não deixa de ser curioso – liderado a eclosão do que hoje é um importante núcleo universitário privado do ensino de Belas Artes…”
.